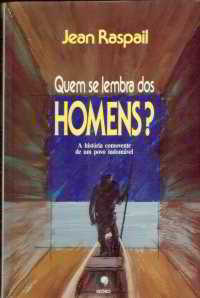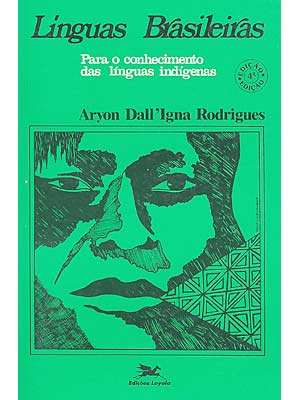FÈVRE, Francis. Faraona de Tebas: Hatchepsut, Filha do Sol. Tradução de Gilda Stuart. São Paulo: Mercuryo, 1991.
[La Pharaonne de Thèbes – Hatchepsout, Fille du Soleil. Presses de la Renaissance, 1986.]
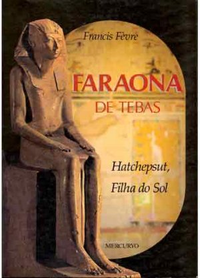 Faraona de Tebas: Hatchepsut, Filha do Sol não é um romance, tampouco uma obra estritamente acadêmica sobre o assunto; está mais para biografia, mas creio que a definição mais adequada é a de “documentário”, bem ao estilo do que ficou comum nos dias atuais em programas de TV sobre história: com base no conhecimento alcançado sobre determinada época, local e povo, traça-se uma visão panorâmica (às vezes aprofundada em certos aspectos) da época ou personagem estudada, tentando-se reconstituir, inclusive com dramatização, fatos históricos e preencher lacunas.
Faraona de Tebas: Hatchepsut, Filha do Sol não é um romance, tampouco uma obra estritamente acadêmica sobre o assunto; está mais para biografia, mas creio que a definição mais adequada é a de “documentário”, bem ao estilo do que ficou comum nos dias atuais em programas de TV sobre história: com base no conhecimento alcançado sobre determinada época, local e povo, traça-se uma visão panorâmica (às vezes aprofundada em certos aspectos) da época ou personagem estudada, tentando-se reconstituir, inclusive com dramatização, fatos históricos e preencher lacunas.
É o que faz nesta obra o historiador francês Francis Fèvre, autor de outros livros, incluindo-se dois romances sobre o Egito antigo. A partir do que se sabia, em meados da década de 1980, sobre a rainha-faraó (ou “faraona”) Hatchepsut, ele reconstitui a época, a cultura, as festas religiosas, a vida na corte, as intrigas palacianas e arrisca lançar hipóteses sobre a vida ainda não bem conhecida dessa soberana da XVIII dinastia egípcia.
Algumas digressões do autor servem para situar o Egito no contexto do Oriente Médio daquela época; outras descrevem rituais religiosos, o embalsamamento e sepultamento dos monarcas; o trabalho dos camponeses e dos operários das obras do Estado; o ritmo das cheias e vazantes do Nilo, fecundando a terra negra que dava nome ao país de Kemit; ou ainda traçam analogias com outras civilizações milenares, como a chinesa, além de recuperar para os dias atuais a importância de Hatchepsut para o Egito antigo.
A cronologia possivelmente mudou com as descobertas mais recentes (algo comum quando se trata de fatos ocorridos há tanto tempo e ainda muito nebulosos), mas atenho-me à do texto que comento e à grafia dos nomes egípcios citados pelo autor – baseados na ortografia francesa, o que foi em parte conservado na tradução (a forma mais comum é “Hatshepsut”).
Hatchepsut teria nascido por volta de 1535 a.C. e morrido com cerca de 50 anos de idade, possivelmente em 1484 a.C., após reinar por 20 anos no lugar de seu enteado Tutmósis III (ou Tutmós, Tutmés). Como Tutmósis era muito pequeno, Hatchepsut assumiu o trono após a morte do meio-irmão e marido, Tutmósis II, fazendo-se representar como homem em todas as situações. Não se tratava, portanto, de uma mulher ocupando o trono do Egito, como ocorreu algumas vezes durante a menoridade do herdeiro, mas de um faraó que era mulher, com todos os títulos, dignidades e indumentária do cargo (inclusive a barba falsa ou postiça). Após sua morte, assume definitivamente o trono seu enteado, Tutmósis III, filho de Tutmósis II com uma concubina. Tutmósis III reinou por cerca de 35 anos e foi o faraó mais vitorioso do Egito, e com ele o país alcançou a extensão máxima de sua fronteiras, perdidas ou conservadas a duras penas, quando possível, por seus sucessores.
Apesar de que não se trata de um romance, o autor vale-se da técnica do discurso indireto livre para entrar nas mentes das personagens históricas, e os pensamentos dele misturam-se com os das personagens que reconstitui. Às vezes decorrem disso certos anacronismos, ao que parece – intencionais ou fruto do mergulho do autor na “mente” reconstituída de suas personagens? Fèvre reconstitui as personagens históricas e entra em suas mentes, tentando saber o que pensavam, seus anseios e frustrações.
Descreve e/ou sugere a formação de Hatchepsut e seu casamento com o meio-irmão; a altivez e a consciência de ter sido talhada para o exercício do poder; o desgosto de ter nascido mulher num contexto de domínio masculino; a possível frustração de ver, pela terceira vez, um bastardo no trono do Egito (o autor levanta a hipótese de que Tutmósis I era filho bastardo de Amenófis I, que o teria casado com a filha legítima para conservar o sangue divino dos faraós – o casamento entre irmãos era fato comum nas casas reais egípcias; a esposa de Tutmósis III era sua meia-irmã, filha de Hatchepsut). Quanto a Tutmósis III, seu fortalecimento como comandante militar, enquanto espera o momento de reinar; o ódio àquela mulher que não lhe permite ocupar o trono que lhe é de direito; o alívio e satisfação com sua morte; a posterior decisão de apagá-la da história.
O autor tenta também responder a algumas questões: Teria Hatchepsut tentado iniciar um matriarcado no Egito, instituindo a possibilidade de uma mulher ocupar o trono após ela (sua filha Neferurê)? Se tentou isso, não o conseguiu. Teria havido uma relação amorosa entre Hatchepsut e Senenmut, seu vizir e arquiteto, construtor do maravilhoso templo de Deir-el-Bahari? Se não, por que Senenmut se fez representar no templo de sua rainha? Como ela teria conseguido reinar como faraó por tanto tempo (cerca de 20 anos ou um pouco mais)?
Fèvre defende que o reinado de Hatchepsut foi um período de estabilidade, de fortalecimento interno, de apego às tradições e à religião, mais voltado à diplomacia e ao comércio do que à armas; depois dela o Egito se abre para o mundo e se torna potência militar sob Tutmósis III, o Grande.
Após sua morte, Hatchepsut começa a ser apagada da história. Seus sucessores destroem suas estátuas, apagam seu nome e imagens dos templos que ela construíra, riscam seu nome dos registros; mas nem tudo conseguiram destruir, e o que restou ajuda a reconstituir, pelo menos em parte, sua vida e importância para a história egípcia.
O texto apresenta alguns erros tipográficos, o que não atrapalha a leitura. Destaco o fato de aparecer em todo o texto a forma amessida (nome da XVIII dinastia, fundada por Ahmósis I, bisavô de Hatchepsut); a forma correta em português é améssida, análoga a raméssida (designativo da XIX dinastia, fundada por Ramsés I).
Apesar de publicado originalmente há quase 30 anos, é livro ainda atual e que se lê com grande proveito e prazer.